Joaninha
Dias, professora e pedagoga, desenvolve atividades afrocentradas nas
unidades de ensino da rede municipal Arthur Souza/LeiaJáImagens
A professora e pedagoga Joaninha Dias explora os mais diversos conteúdos produzidos por pessoas negras em classe e impacta famílias
por Maya Santos,
Vinda de uma família majoritariamente negra, Joana de Angelis Dias da Silva, 36, ou Joaninha Dias como prefere ser chamada, exerce sua função como professora e pedagoga contando aos estudantes um outro lado da história brasileira, a história do povo afro-brasileiro.
Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), os negros (pretos e pardos) representam 54% da população brasileira. Esse dado nos leva ao ano de 2003, que marca um passo importante para a luta da população afro-brasileiro, quando entra em vigor a Lei 10.639/03. Ela versa sobre a inclusão, em todo conteúdo programático escolar, o ensino da história, da cultura e da luta afro-brasileira, além da contribuição do negro na formação da sociedade nacional.
As aulas são ministradas especialmente nas áreas de educação artística, literatura e história brasileira. E, para Joaninha Dias, a lei pauta um viés para luta antirracista na rede de ensino da Região Metropolitana do Recife (RMR), mas que ainda precisa de aprimoramento para tratar dos temas de forma mais eficiente.
A pedagoga revela que o ensino de conteúdo afrocentrado, confeccionado por ela, ajuda “as crianças negras a conhecerem a própria história e também crianças brancas conhecerem a história do povo negro”, enfatiza. Além disso, o material ainda tem a proposta de um futuro com maior respeito e igualdade entre as raças, além de elevar a autoestima das crianças negras.
O início de tudo
Em 2014, foi realizada a feira literária “Erês e Curumis: Pequenos Leitores, Grandes Escritores”, na Escola Municipal Nossa Senhora da Conceição, localizada em Jaboatão dos Guararapes. A feira resultou no “Manual de Atividades com Contos Africanos”, que a pedagoga confeccionou e destinou a profissionais da educação básica trabalharem em classe, uma vez que, segundo ela, o Estado demonstra carência na entrega de material didático pronto para desenvolvimento em sala.
Em contrapartida, a gestora da Gerência de Políticas Educacionais de Educação Inclusiva, Direitos Humanos e Cidadania (GEIDH), Vera Braga, diz que foi instituído pela Secretaria de Educação de Pernambuco (Seduc-PE) um plano para as relações étnicos-raciais, em meados de 2014, junto aos grupos da sociedade civil organizadas, como o Movimento Negro Unificado (MNU).
Braga ainda reforça que, desde 2015, os profissionais das áreas de ensino no Estado passam por capacitações realizadas por equipes, que circulam em 16 gerências regionais para ministrar formações técnicas que capacitem os professores e professoras. Durante o ano, são realizados encontros quinzenais, mensais e trimestrais.
A gestora do GEIDH, Vera Braga, revela que existe um calendário na gerência com sugestões de material a serem trabalhados nas escolas, mas não dispõe de materiais didáticos próprios. A ausência desse conteúdo seria para dar maior liberdade para atuação pedagógica dos professores, principalmente da educação básica. “Apenas damos sugestões. O professor tem autonomia para conduzir a sua aula. Apenas estabelecemos um diálogo, uma parceria com o professor a fim de lhe fornecer mais subsídios”, disse a gestora do GEIDH ao LeiaJá.
A relação entre escola e comunidade
A linguagem simples e dinamizada gera interesse nos pequenos, assim a pedagoga Joaninha ganha a confiança e aprovação dos pais e gestão das escolas em que é professora. A iniciativa influencia outros profissionais para exercitar as atividades propostas em classe, promovendo uma valorização as contribuições intelectuais do povo negro brasileiro.
Os pais que antes não entendiam a importância da inclusão de conteúdo afrocentrado nas aula agora mudam os hábitos de consumo midiático, como explica a pedagoga. “Agora está procurando conteúdo no YouTube mesmo, que sejam de crianças negras, que sejam de mulheres negras, porque ela viu o quanto os olhos da filha brilharam quando ela se viu representada”.
A docente também comemora a repercusão do trabalho realizado em classe para a comunidade, ao ouvir uma das mães identificar a presença de corpos negros em conteúdos consumidos pela filha. “Ela fez a reflexão e isso pra mim foi muito impactante. É o resultado na comunidade, nas coisas que a gente vem fazendo, no trabalho em sala de aula todo dia”.
Vinda de uma família majoritariamente negra, Joana de Angelis Dias da Silva, 36, ou Joaninha Dias como prefere ser chamada, exerce sua função como professora e pedagoga contando aos estudantes um outro lado da história brasileira, a história do povo afro-brasileiro.
Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), os negros (pretos e pardos) representam 54% da população brasileira. Esse dado nos leva ao ano de 2003, que marca um passo importante para a luta da população afro-brasileiro, quando entra em vigor a Lei 10.639/03. Ela versa sobre a inclusão, em todo conteúdo programático escolar, o ensino da história, da cultura e da luta afro-brasileira, além da contribuição do negro na formação da sociedade nacional.
As aulas são ministradas especialmente nas áreas de educação artística, literatura e história brasileira. E, para Joaninha Dias, a lei pauta um viés para luta antirracista na rede de ensino da Região Metropolitana do Recife (RMR), mas que ainda precisa de aprimoramento para tratar dos temas de forma mais eficiente.
A pedagoga revela que o ensino de conteúdo afrocentrado, confeccionado por ela, ajuda “as crianças negras a conhecerem a própria história e também crianças brancas conhecerem a história do povo negro”, enfatiza. Além disso, o material ainda tem a proposta de um futuro com maior respeito e igualdade entre as raças, além de elevar a autoestima das crianças negras.
O início de tudo
Em 2014, foi realizada a feira literária “Erês e Curumis: Pequenos Leitores, Grandes Escritores”, na Escola Municipal Nossa Senhora da Conceição, localizada em Jaboatão dos Guararapes. A feira resultou no “Manual de Atividades com Contos Africanos”, que a pedagoga confeccionou e destinou a profissionais da educação básica trabalharem em classe, uma vez que, segundo ela, o Estado demonstra carência na entrega de material didático pronto para desenvolvimento em sala.
Em contrapartida, a gestora da Gerência de Políticas Educacionais de Educação Inclusiva, Direitos Humanos e Cidadania (GEIDH), Vera Braga, diz que foi instituído pela Secretaria de Educação de Pernambuco (Seduc-PE) um plano para as relações étnicos-raciais, em meados de 2014, junto aos grupos da sociedade civil organizadas, como o Movimento Negro Unificado (MNU).
Braga ainda reforça que, desde 2015, os profissionais das áreas de ensino no Estado passam por capacitações realizadas por equipes, que circulam em 16 gerências regionais para ministrar formações técnicas que capacitem os professores e professoras. Durante o ano, são realizados encontros quinzenais, mensais e trimestrais.
A gestora do GEIDH, Vera Braga, revela que existe um calendário na gerência com sugestões de material a serem trabalhados nas escolas, mas não dispõe de materiais didáticos próprios. A ausência desse conteúdo seria para dar maior liberdade para atuação pedagógica dos professores, principalmente da educação básica. “Apenas damos sugestões. O professor tem autonomia para conduzir a sua aula. Apenas estabelecemos um diálogo, uma parceria com o professor a fim de lhe fornecer mais subsídios”, disse a gestora do GEIDH ao LeiaJá.
A relação entre escola e comunidade
A linguagem simples e dinamizada gera interesse nos pequenos, assim a pedagoga Joaninha ganha a confiança e aprovação dos pais e gestão das escolas em que é professora. A iniciativa influencia outros profissionais para exercitar as atividades propostas em classe, promovendo uma valorização as contribuições intelectuais do povo negro brasileiro.
Os pais que antes não entendiam a importância da inclusão de conteúdo afrocentrado nas aula agora mudam os hábitos de consumo midiático, como explica a pedagoga. “Agora está procurando conteúdo no YouTube mesmo, que sejam de crianças negras, que sejam de mulheres negras, porque ela viu o quanto os olhos da filha brilharam quando ela se viu representada”.
A docente também comemora a repercusão do trabalho realizado em classe para a comunidade, ao ouvir uma das mães identificar a presença de corpos negros em conteúdos consumidos pela filha. “Ela fez a reflexão e isso pra mim foi muito impactante. É o resultado na comunidade, nas coisas que a gente vem fazendo, no trabalho em sala de aula todo dia”.
Em outros territórios brasileiros
Em outros estados brasileiros, professoras e professores negros implementam conteúdos afrocentrado. Como é o caso de estudantes no Distrito Federal, que participam de palestras e atividades artísticas que geram a valorização da história e cultura afro-brasileira, estabelecendo como forma de avaliação dos aprendizados apresentações de trabalhos.
O material de Joaninha alçou voos altos, chegando até a França, além de demarcar o território nordestino, como no estado de João Pessoa e outras cidades da RMR. A professora disponibiliza o material aos interessados, por e-mail, a fim de promover a popularização do conhecimento e melhores práticas de abordagem da pauta. Quem tiver interesse basta mandar um e-mail para joaninha.dias@yahoo.com.
Fonte: leiaja


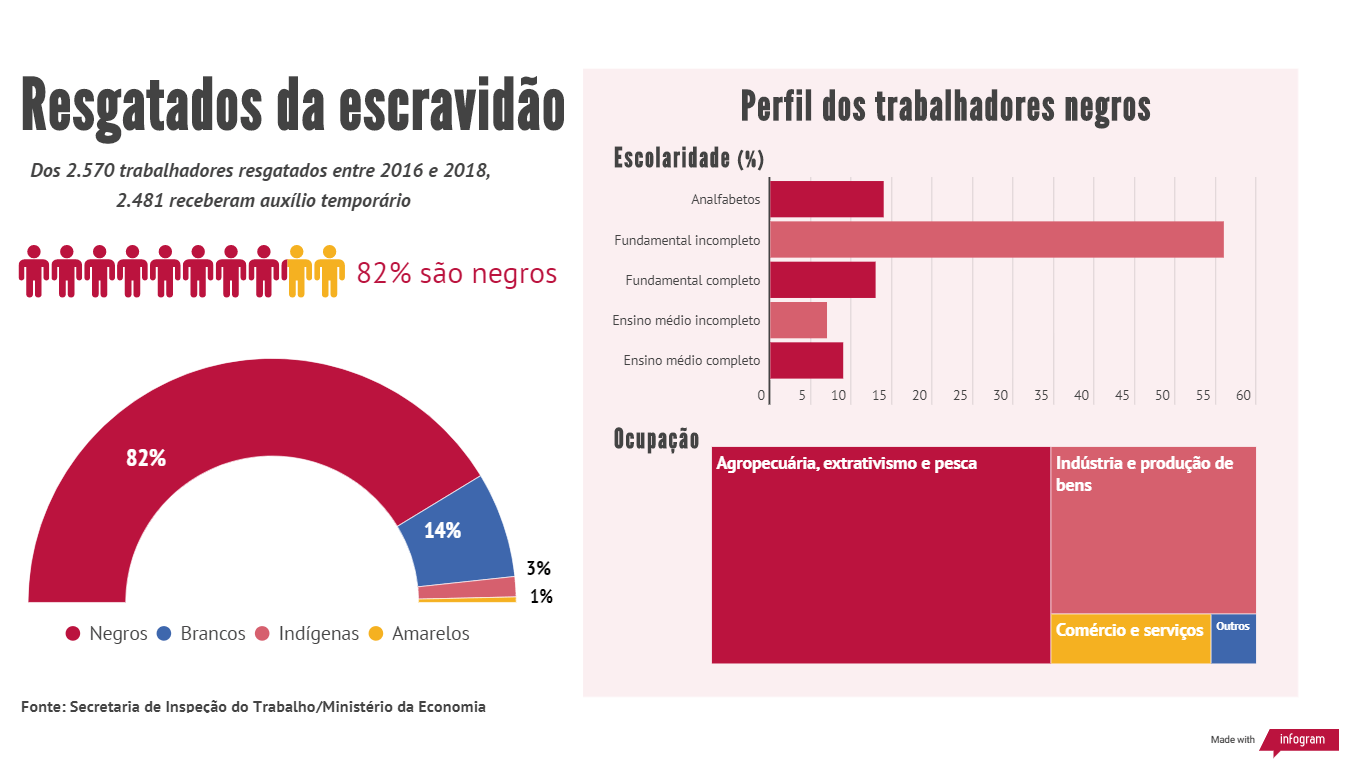






.jpg)
.jpg)
.jpg)
